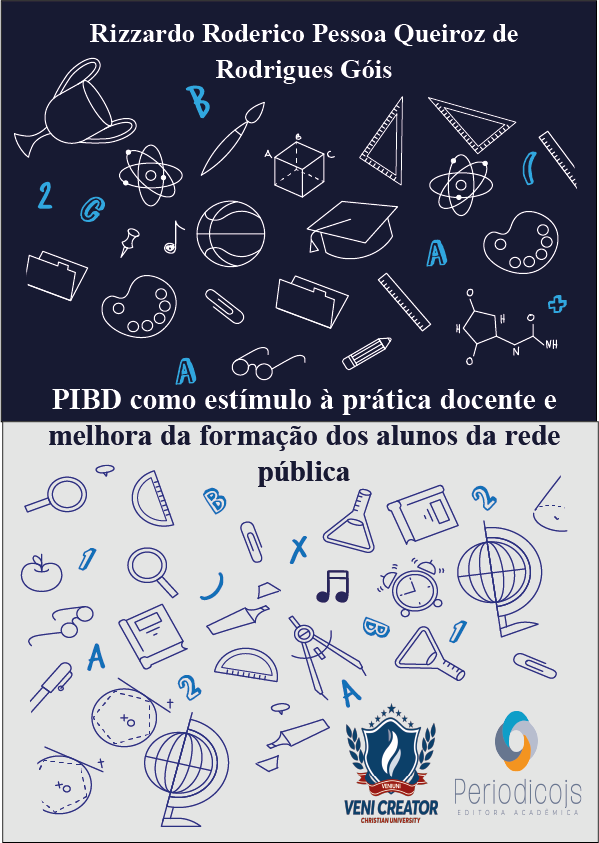Abstract
The Institutional Program for the Initiation of Scholarships and Initiation to Teaching (PIBID) is conceived as an instrument for the formation of the teacher, and involves the undergraduate and EAD degrees from the Federal Institute of Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). Together, this program assists in the complementation and training of students in basic education, giving them various pedagogical methods in the course of classes, based on the use of freer topics without evaluation focus. The methodology of this work consists of a descriptive research, which presents a documentary character and is characterized as spontaneous, since it was through behavioral observation and questionnaire application as a data collection instrument, that made it possible to reach the objectives listed to follow, as well as, credible results. The objectives are to describe the importance of the program of initiation to teaching for undergraduate students and students of public schools; analyze the influence of technological resources used in class; reveal the influence of classes on student curriculum assessments and meaningful student learning. The expected results aim to corroborate the effectiveness of PIBID, the qualification of undergraduate students and the training of public school students. In summary, we can conclude that, the use of technology has proved to be a relevant factor in the classes, since several technological resources were used, among them the data show, cellular, sound box and monitors. In this way, the interactivity of students and teachers is reached more broadly, in addition to obtaining significant quantitative in what concerns the school performance of the classes.
References
AGUIAR, E. V. B. As novas tecnologias e o ensino-aprendizagem. Vértices, Fluminense, v. 10, n. 1/3, p. 63-71, jan./dez. 2008.
AIRES, J.A. Integração Curricular e Interdisciplinaridade: sinônimos? Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 36, n.1, p. 215-230, jan./abr., 2011.
AYRES, J. R. de C. M. Vulnerabilidade dos jovens ao HIV/AIDS: a escola e a construção de uma resposta social. In.: SILVA, L. H. (org.). A escola cidadã no contexto de globalização. Petrópolis: Vozes, 1998.
Almeida, M. E., & Valente, J. A. Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes? São Paulo: Paulus. (2011).
ANTUNES, Ângela. Aceita um Conselho? Como organizar o colegiado escolar. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008.
ASSIS, K. K. et al. A articulação entre o Ensino de Ciências e as TIC: Desafios e possibilidades para a formação continuada. In: Congresso Nacional de Educação, 10, 2011, Curitiba – PR. Anais. Curitiba: PUCPR, 2011. Online.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14.724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro – RJ, 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.287: informação de documentação – projeto de pesquisa – apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro – RJ, 2011.
BAUMAN, Zygmunt. O medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
BARREIRO, Iraídes Marques de Freitas. Prática de ensino e estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
BASTOS, J. B. (org.). Gestão Democrática. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2001.
BERTI, Valdir Pedro. Interdisciplinaridade: um conceito polissêmico- São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado)- Universidade de São Paulo. Instituto de Química
BOUHNIK, D., & DESHEN, M. WhatsApp goes to school: Mobile instant messaging between teachers and students. Journal of Information Technology Education: Research,13, 217-231, 2014. Retrieved from: http://www.jite.org/documents/Vol13/JITEv13ResearchP217-231Bouhnik0601.pdf
BOURDIEU, Pierre. Les trois états du capital culturel. Actes de la recherche en sciences sociales, Paris, n. 30, nov. p. 3-6, 1979.
BOURDIEU, Pierre. Para uma sociologia da Ciência: Um mundo à parte. Lisboa: Ed. 70, 2004.
BARROS, Aidil Jesus da Silveira et LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de Metodologia Científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF,1998.
BRASIL, CAPES. Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013. Aprova o Regulamento do PIBID. Disponível em: . Acesso em: 01 ago. 2018.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação e Cultura/MEC, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura/MEC. PIBID-Apresentação. Brasília: Ministério da Educação, 2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pibid >. Acesso em: 01 ago. 2018.
CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Disponível em: . Acesso em: 03 abril. 2019.
CAMPOS, Luiz Augusto. RACISMO EM TRÊS DIMENSÕES Uma abordagem realista-crítica. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, abril 2017, vol.35, p.1-19, São Paulo. ISSN 0102-6909
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
CARVALHO, A. M; GIL PEREZ, Daniel. O saber e o saber fazer dos professores. In: CASTRO, A. D; CARVALHO, A.M.P. (Org.). Ensinar e ensinar Didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Pioneira - Thompson Learning, 2001.
Chagas, I (1993) Teachers as innovators: A case study of implementing the interactive videodisc in a middle school science program. Tese de Doutoramento. Boston University, Boston.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8 eds. São Paulo: Cortez, 2006
DONADELLI, Paulo Henrique Mioto; MENDES, Rita de Cássia Lopes de Oliveira. A ouvidoria nas instituições de ensino superior e a efetivação do serviço educacional. In: CAMINE: Caminhos da Educação: Ways Educ., Franca, SP, Brasil – e ISSN 2175-4217, v. 3, n. 2 (2011)
DOURADO, Luiz Fernandes. A escolha de dirigentes escolares: políticas e gestão da educação no Brasil. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.) Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 1998.
FAZENDA, I. C. A; TAVARES, D. E.; GODOY, H. P. Interdisciplinaridade na pesquisa científica. Campinas, SP: Papirus, 2015. (Coleção Práxis)
FAZENDA, I. C. A.; CASADEI, S. R. Natureza e interdisciplinaridade: reflexões para a Educação Básica. Revista Interdisciplinaridade, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 43- 71, out. 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 11ª Edição. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1987.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
FREIRE, Paulo Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
FRIGOTTO. G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas Ciências Sociais. In: JANTSCH, A. P.; BIANCHETTI, L. (Org.). A interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 34-59
GADOTTI, M. Interdisciplinaridade: atitude e método. São Paulo: USP, 1992. p. 67-89.
GARRUTI, E. A.; SANTOS, S.R. A Interdisciplinaridade como forma de superar a fragmentação do conhecimento. Revista de Iniciação Científica da FFC, v. 4, n. 2, 2004
GASPAR, A; MONTEIRO, I. C. C. Atividades experimentais de demonstração em sala de aula: uma análise segundo o referencial da teoria de Vygotsky. In: Investigações em Ensino de Ciências. v. 10, n. 2, 2005. p. 227-254
GARRIDO, Elsa. Sala de aula: Espaço de construção do conhecimento para o aluno e de Pesquisa e de desenvolvimento para o professor. In: CASTRO, Amélia Domingues;
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas, 2002.
GOMES, M.E.C. Do instituto do ombudsman à construção das ouvidorias públicas brasileiras. In: LYRA, R.P. (org.). A ouvidoria na esfera pública brasileira. 1ª ed. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB; Curitiba: Editora Universitária UFPR, 2000.
GRANDINI, N. A.; GRANDINI, C. R. A Importância e Utilização do Laboratório Didático na Visão de Alunos Recém Saídos do Ensino Médio. In: XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2007, São Luís (MA). CDROM do XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física. São Paulo – (SP): Sociedade Brasileira de Física, 2007 p. 01-06.
JACOBUCCI, D.F.C. Contribuições dos Espaços Não-formais de Educação para a Formação da Cultura Científica. EM EXTENSÃO, Uberlândia, V. 7, 2008. P.55- 66.Disponível:http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/viewFile/20390/10 860.
KENSKI, V.M. O papel do Professor na Sociedade Digital. In: CASTRO, A. D. de CARVALHO, A.M.P. de (Org.). Ensinar a Ensinar: Didática para a Escola Fundamental e Média. São Paulo; Ed. Pioneira Thompson Learning, 2001.
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
KOCH, Ingedor e Vilhaça. Ler e Compreender: os sentidos do texto. 3.ed.São Paulo: Contexto,2007.
LIZARDI, José Joaquín Fernándes de. El Periquillo Sarniento: Tomo I. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001. Disponível em:< http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-periquillosarniento-tomo-i/ > Acesso em: 06/04/2019.
LOBATO, A. Considerações sobre o trabalho da ouvidoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.abonacional.org.br/textos2.asp?vpro=alzira>. Acesso em 08/03/2019.
LOPES, Antônio Osima. Planejamento do ensino numa perspectiva crítica de educação. 23ª ed. Campinas São Paulo: Papirus, 2004.
LOPES, C. G.; VAS, B. B. O Ensino de História na Palma da Mão: o WhatsApp como ferramenta pedagógica para além da sala de aula. Atas do Simpósio Internacional deEducação a Distância e Encontro de Pesquisadores de Educação a Distância. São Carlos: UFSCar. 2016.
LÜCK, H. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. Petrópolis: Vozes, 1994.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Gestão democrática na escola, ética e sala de aula. Revista ABC Educatio. São Paulo, n 64, v. 64, p. 30-33, [2007]. Disponível em: < http://luckesi.com.br/textos/abc_educatio/abceducatio_64_gestao_democratica_da_e scola.pdf >. Acesso em: 02 abri. 2019.
MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA (1932). In: Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm > Acesso em 02 de Maio de 2019.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos. 7. ed. 2 reimpr. São Paulo: Atlas, 2008
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In. DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Ana Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Orgs.) Gêneros textuais & ensino. 5. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
MARTINS, Jorge Santos. Projetos de pesquisa: estratégias de ensino – aprendizagem em sala de aula. São Paulo: Armazém do Ipê, 1989.
MARTINS, Rosa Elisabete Militz Wypyczynski. Contribuições para a Iniciação a Docência: A Experiência do Pibid – Geografia da FAED/UDESC. Revista do Ensino de Geografia, Uberlândia, v. 3, n. 5, p. 54-63, jul/dez. 2012. Disponível em: < http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/N.5/Art4v3n5final.pdf>. Acesso em 05 mai. 2018.
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2012.
MIRANDA, L, R. et al. Pibid Geografia na Escola Estadual Antônio Pinto de Medeiros: contribuições para uma formação cidadã. Revista Holos, Rio Grande do Norte, v. 3, ano 28, jun. 2012. Disponível em: < http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/889/560>. Acesso em: 05 mai. 2019.
MODELOS PRONTOS, 2018. Disponível em: https://modelosprontos.com/abaixo- assinado-imprimir. Acesso em: 14 de fev. 2018.
MORAN, J. M. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2010.
MUERTE. Cuadernos del Patrimonio Cultural y Turismo. Ciudad. de México, v. 16, noviembre 2006.
NIELSEN, Jakob. Risks of quantitative studies. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/>Acesso em: 22 julho. 2018.
OLIVEIRA, Maria Marly de. Projetos, relatórios e textos na educação básica: como fazer. Petrópolis – RJ: Vozes, 2008.
NOGUEIRA, C. M.; NOGUEIRA, M. A. A sociologia da educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições. Educação & Sociedade, Campinas, ano 23, n. 78, p. 15-36, abr. 2002.
OLIVEIRA, T. T. Uso de TICs no Ensino de Biologia: Um olhar Docente. 2013. 35f. Monografia (Especialista na Pós Graduação em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira –PR,2013.
PECHI, Daniele et al. Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem.Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/240/redes-sociais- ajudam-interacao-professores-alunos. Acesso em: 03 abril 2019.
PERALTA, H. & Costa, F. A. (2007). Competência e confiança dos professores no uso das TIC. Síntese de um estudo internacional. Sísifo. Revista de Ciências da Educação, 03, pp. 77-86. Disponível no URL http://sisifo.fpce.ul.pt.
PEREIRA, A.E. AS OUVIDORIAS UNIVERSITÁRIAS NO BRASIL: UM INSTRUMENTO EFICAZ DE ACCOUNTABILITY NA GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN/ Brasil.2016.
PERRENOUD, P. (2004). De uma metáfora a outra: transferir ou mobilizar conhecimentos? In Dolz, J. e Ollagnier, E., O enigma da competência em educação. Porto Alegre: Artmed.
PIAGET, J. Problémes Géneraux de La Recherche Interdisciplinaire ET Mécanismes Communs. In: PIAGET, J. Épistémologie dês Sciences de I`Homme. Paris: Gallimard, 1981.
POMBO, Olga. Interdisciplinaridade: ambições e limites. Lisboa: Relógio d’Água Editores. 2004 – ISBN 972-708-814-7.
POPPER, K. R. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. São Paulo: Itatiaia: EDUSP, 1975.
PRESTES, Maria Lúcia de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento científico: dos planejamentos aos textos, da escola à academia. 4 ed. São Paulo: Rêspel, 2010.
REY, Luiz. Planejar e Redigir Trabalhos Científicos. São Paulo: Edgard Blücher, 1987.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social - Métodos e Técnicas. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 2008. 334 p.
RISCAL, Sandra Aparecida. Considerações sobre o conselho e seu papel mediador e conciliador. In: LUIZ, Maria Cecília (Org.). Conselho escolar: algumas concepções e propostas de ação. São Paulo: Xamã, 2010.
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LÚCIO, Pilar Baptista. Metodologia de Pesquisa. 3. ed. São Paulo: Megraw-Hill, 2006.
SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, P. B. Metodologia de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Penso, 2013.
SANTOMÉ, J. T. Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artmed, 1998.
SATURNINO, V. de L. et al. Novas tecnologias da informação e comunicação no Ensino de ciências naturais e matemática na formação Inicial de professores/as. In: Congresso Nacional de Educação, 03, 2016, Natal – RN. Anais... Natal: CEMEP,2016. Online.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Autores Associados, 2006.
SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum a consciência filosófica, Campinas, 1980. PORTO, Maria do Rosário Silveira. Funções Sociais na escola. Escola Brasileira: temas e estudos. São Paulo: ATLAS/1997.
SCHWARCZ, L. K. M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil: 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SÉRÉ, M. G; COELHO, S. M; NUNES, A. D. O papel da experimentação no ensino de física. In: Caderno Brasileiro de Ensino de. Física. v. 20, n. 1, abr. 2003. p. 30-42.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. revisada e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.
SILVA, José Carlos Teixeira da (2002). Tecnologia: conceitos e dimensões, 22., 2002, Curitiba. In: Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Curitiba: ABEPRO, 2002. Disponível em: . Acesso em: 20/06/2018.
SINDICATO DOS BÁNCARIOS FAZ CARTA ABERTA Á POPULAÇÃO, 2018. Disponível em: < http://waltermaguiemfoco.blogspot.com/2015/08/sindicato-dos- bancarios-faz-carta.html> Acesso em: 14/10/2018.
SOUZA, J. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de Janeiro, Leya, 2017.
STENTZLER, Marcia Marlene. O PIBID em minha vida. Paraná: Kaygangue, 2013.
STRAUSS. Anselm. Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
STAMBERG, C. S. Interdisciplinaridade na prática pedagógica: ensino e aprendizagem em ciências. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). Porto Alegre: PUC, 2009. p.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
THIESEN, J. S. CURRÍCULO E GESTÃO ESCOLAR: territórios de autonomia colocados sob a mira dos standards educacionais. Currículo sem Fronteiras, v. 14, n. 1, p. 192-202, jan./abr. 2014.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2018. Certamen de Relato Personal "Mi historia Inolvidable". Disponível em: < http://arquitectura.unam.mx/noticias/certamen-de-relato-personal- mi-historia-inolvidable> Acesso em: 14/10/2018.
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Para onde vai o Professor? Resgate do Professor como sujeito de transformação. 10ª Ed. São Paulo: Libertad, 2003.
VENTURA, R. Estilo tropical: a natureza como pátria. Ideologies & Literature New Series, v. 2, n. 2, p. 145-158, 1987.